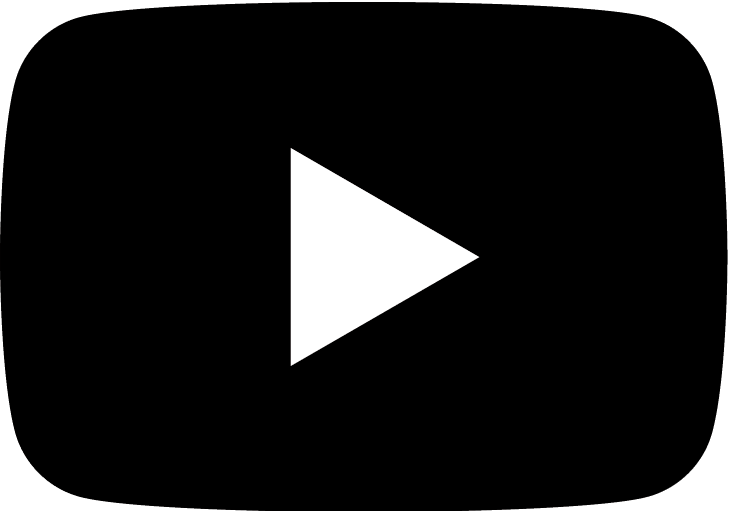A bandeira do Divino
Por J.A.Moraes de Oliveira* No caminho de retorno à casa, no final das férias, eu experimentava uma indefinida estranheza. Por um lado, ansiava em …
Por J.A.Moraes de Oliveira*
No caminho de retorno à casa, no final das férias, eu experimentava uma indefinida estranheza. Por um lado, ansiava em rever minha rua, os amigos, a turma da esquina; por outro, lamentava os dias felizes na fazenda, que iam ficando para trás na esteira do pequeno navio que cruzava a Lagoa dos Patos. Para piorar as coisas, me invadia uma enorme saudade de meu pai, que agora eu divisava ao longe, nos esperando no cais do porto, vestido de linho branco ao lado do Chevrolet de aluguel da Praça Júlio de Castilhos.
Quando o carro de praça vencia vagarosamente os paralelepípedos de nossa rua, eu vivia a alegria da redescoberta da casa e a surpresa de como tudo era acanhado depois da longa temporada nos campos da fazenda. Então, eu corria até o quartinho dos fundos para reencontrar meu tesouro oculto: a coleção de gibis semanais com as historietas de que mais gostava: Jim das Selvas, Tocha Humana e, claro, Namor, o Príncipe Submarino.
E a vida voltava lentamente à rotina de sempre - as barras de gelo derretendo nas calçadas, as garrafas de leite deixadas pelo portuguës Arnaldo, as idas diárias até a padaria 3 Estrelas, em busca do pão russo da fornada das 5 horas, aquele recoberto de sementes de papoulas.
Uma vez por mês, era a vez do fiscal da Higiene, que andava com uma pequena bandeira amarela, que pendurava no portão das casas enquanto depositava algumas gotas de creolina nos ralos e esgotos.
Nunca entendi exatamente o que significava aquela bandeira amarela.
Os meninos que se reuniam na esquina de nossa rua estavam sempre no aguardo de alguma coisa para romper a rotina dos dias sempre iguais. Naquele outono, alguém lembrou que faltava pouco para a festa do Divino. Corri para casa para avisar minha mãe que as bandeiras estavam chegando; ela olhou-me divertida, mostrando na folhinha de parede que ainda faltava um mês para a festa.
A festa do Divino era um acontecimento que mexia com todo o bairro, só perdendo em emoções para a procissão de Corpus Christi, que percorria a Avenida Independência e que reunia tantas pessoas que eu não sabia que existiam.
Eu e meus amigos gostávamos de acompanhar as bandeiras encimadas com a pomba do Espírito Santo, conduzidas por sizudos homens de togas vermelhas, que percorriam o bairro, fazendo uma reverência na porta de cada casa. Eu e minha irmã seguíamos aquela pequena procissão pelos cômodos da nossa casa, aspirando o cheiro do incenso e observando com orgulho minha mãe depositar algumas moedas na caixa de madeira apresentada no final da visita.
Os homens de vermelho conheciam todos os católicos do bairro e evitavam cuidadosamente as casas dos judeus e dos alemães protestantes.
Certa vez, quando passaram pela casa do meu amigo Moshe Goldman, na esquina da Felipe Camarão, me atrevi a perguntar a um dos homens se não iam entrar naquela casa amarela de porta-e-janela.
O homem me olhou por um minuto e respondeu sussurrando: "Não podemos, eles têm um outro Deus!".
Permanecemos na esquina, eu e o Moshe, olhando a bandeira que se afastava com suas fitas coloridas ondulando na subida da rua. Por um momento, pensei ver uma sombra de tristeza nos olhos acinzentados do pequeno Moshe. Naquela noite, perguntei à minha mãe porque a bandeira não entrava na casa dos nossos vizinhos judeus. Ela pigarreou uma ou duas vezes e me abraçando disse que achava que os judeus estavam pagando o pecado de terem entregue Cristo aos romanos.
Não entendi como o Moshe, que me emprestava suas melhores bolinhas de gude, poderia ser culpado a ponto de não merecer a visita da bandeira enfeitada. Talvez a culpa fosse de seu pai, um homem sempre vestido de preto, que não cumprimentava ninguém e para o qual todos os operários da fábrica de chapéus deviam dinheiro.
Alguns dias depois das bandeiras acontecia o melhor da festa - a quermesse armada na esquina do Bom Fim, com tendas de jogos, roda gigante e um carrossel de cavalos pintados.
Era um tempo em que tínhamos permissão para ficar até mais tarde na rua, admirando as tendas e - para os que tinham poupado algumas moedas - tentar a sorte nos jogos ou andar na roda gigante.
Naquele ano, a mãe me levou para visitar meu padrinho Armando, que morava com a tia Ida entre as Igrejas do Divino e de Santa Terezinha. Quando saímos, a rua estava toda iluminada enquanto rojões eram disparados do alto da igreja. Aspirei no ar o cheiro de pipocas da pólvora dos rojões. Era o perfume da aventura e das coisas proibidas. Apertei forte
a mão da mãe e pedi para olhar as tendas dos jogos. Ela consentiu e reuni-me aos amigos, passeando para um lado e outro, enquanto apertava no bolso da calça a generosa mesada que tinha ganho do tio Armando. Aquela festa do Divino foi a melhor de minha vida. Voltei para casa abraçado a uma lata de goiabada, meu grande prêmio no jogo de argolas.
***
O táxi que me leva hoje para uma reunião de negócios passa pelo mesmo largo defronte à igreja, que não se parece com a mesma das festas de minha infância. Peço ao motorista para subir a Felipe Camarão e entrar na Vasco da Gama. Lá estão os mesmos jacarandás com suas flores roxas, que tanto encantavam minha mãe. A rua agora corta o espaço onde ficavam os três grandes pátios de recreio do Ginásio Rosário. Naqueles pátios, os mais jovens corriam de um lado para outro enquanto os mais velhos se juntavam em pequenos grupos. De quê mesmo falávamos naqueles recreios de quinze minutos?
Alguns dos alunos pediam licença para rezar na capela durante o tempo de recreio. Ainda lembro a capela quase sempre vazia, o vago perfume de incenso e de flores murchas. Os alunos da 4a série comentavam que os freqüentadores assíduos da capela ganhavam sempre as melhores notas.
Planejei ficar rezando durante horas a fio para merecer as boas notas que prometera a meu pai. Mas, por mais que tentasse, minhas visitas à capela nunca tinham como testemunha os professores de Física ou Matemática.
Pouco tempo depois, desisti de meus planos, pois meu colega de banco, o Adroaldo, fora reprovado em Religião e Música. Logo ele, que ajudava nas missas solenes e gastava recreios inteiros de joelhos na capela.
Assaltaram-me então dúvidas sobre as verdades das aulas de catecismo - seria mesmo verdade que os bons eram recompensados e os maus, sempre castigados? O pai do Moshe seria castigado por emprestar dinheiro a juros?
E porque eu merecera aquele prêmio na festa do Divino?
Como sempre, procurei resposta com minha mãe. Mas o que ouvi não ajudou muito - e ainda ganhei aquele olhar preocupado que ela reservava para quando suspeitava que estávamos com febre ou com apendicite.
* J.A.Moraes de Oliveira é jornalista e publicitário.< /i>
[email protected]

 Coletiva
Coletiva