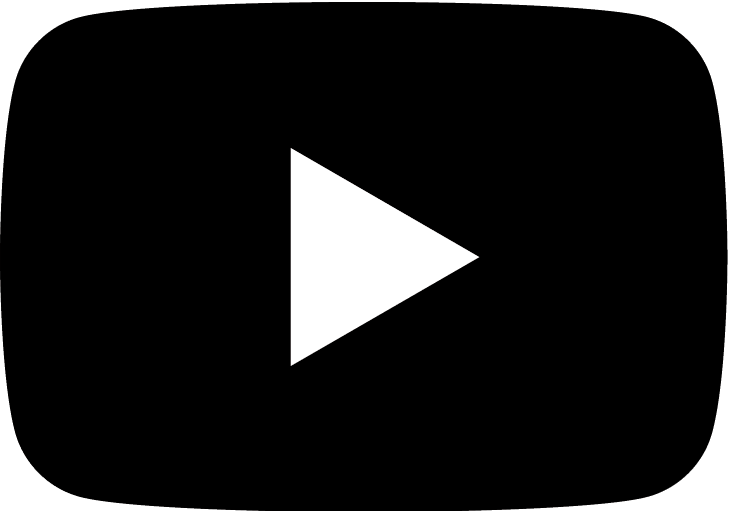Um Dia Comum (apud Mario de Almeida)
Por José Antonio Moraes de Oliveira* Era uma manhã de outono ainda mal começada em Porto Alegre e da janela de meu quarto eu …
Por José Antonio Moraes de Oliveira*
Era uma manhã de outono ainda mal começada em Porto Alegre e da janela de meu quarto eu sentia o sol expulsando aos poucos o frio da madrugada. Eu acordara alegre, bem dormido, havia sonhado com Ingrid, a nova vizinha do casarão da esquina da Ramiro Barcelos, loura e linda, distante musa de todos os guris da zona.
Peguei livros e cadernos para as aulas do dia, coloquei-os na pasta escolar, dei um beijo na mãe e um abraço no pai que tomava seu café lendo o Correio do Povo. O Diário de Notícias, segunda leitura, estava na poltrona, ao lado do rádio Telefunken de 12 válvulas.
Era muito cedo, pois a aula de Religião começava às 7 horas. Defronte a algumas casas da Vasco da Gama, pedras de gelo na calçada denunciavam os moradores que ainda dependiam da geladeira Steigleder, comprada a prestação. Os litros de leite, depositados pelo leiteiro Arnaldo, aguardavam a coleta. Eu pulava os filetes de água gelada e, tirando o barulho de alguma carroça não visível, o resto era silêncio.
Subi a Ramiro Barcelos, cheguei até a Praça Júlio de Castilhos na Avenida Independência. Enquanto aguardava o bonde, observava o Neves, motorista da família Dreher, polindo o Cadillac negro rabo de peixe. Com certeza Frau Elise Dreher iria sair logo para visitar suas filhas que moravam no morro do IPA. Tive sorte, o primeiro bonde era um gaiola Prado, quase vazio.
Fui para a plataforma traseira, onde já estavam o Feijó e o Dieffenthaler, também a caminho da mesma aula de Religião. O Feijó era companheiro de bonde apenas na ida. Na volta, o pai, que tinha um flamante Lincoln Continental, o apanhava na porta do Rosário e muitas vezes eu ganhava uma carona até a Ramiro Barcelos.
Gostava de ver os olhares de inveja dos colegas, a caminho da parada de bonde, quando eu entrava no Lincoln, que não tinha maçanetas, mas botões elétricos que abriam as portas como em um passe de mágica.
Já o Diefenthaler era de uma raça diferente. Sempre de bonde com um livro debaixo do braço. Adorava leitura e música. Seus ídolos eram Emilio Salgari e Beethoven e era capaz de passar horas falando sobre as nove sinfonias.
A viagem até o Ginásio Rosário durava apenas uns dez minutos, a não ser quando o motorneiro cismava de esperar por um passageiro atrasado, que subia com dificuldade a Santo Antônio ou a Barros Cassal. Fiquei pensando naquelas aulas de Religião, sempre às 7 horas da manhã, três vezes por semana, que eram o pesadelo de todos nós. Mas eu gostava do Irmão Roberto, que escrevia poesias com o pseudônimo de Luiz do Rego. Mesmo nos dias gelados de agosto, ele vestia-se apenas de batina, sem o manto que muitos maristas usavam para se abrigar no inverno. Alguns colegas mais velhos cochichavam que ele era uma espécie de asceta, que comia e dormia pouco, passando as madrugadas na capela do colégio.
Enquanto olhava as primeiras janelas dos casarões se abrindo para a avenida, meu pensamento foi para a Ingrid e respirei fundo, adivinhando que perfume ela usava. Certamente não seria o enjoativo Cashmere Bouquet das minhas primas ou da Tia América. Seria, com certeza um perfume francês, sofisticado, com aromas de pinheiros do hemisfério norte.
O bonde chegou na Igreja da Conceição, e descemos todos.A caminhada era curta. Quando eu cismava de vir pelo Bom Fim, usando o bonde Petrópolis, a subida da Sarmento Leite era mais longa e cansativa e perigava um atraso para a primeira aula. Como sempre, na portaria do Rosário, o irmão Faustino olhava zeloso os alunos chegando, preparando a inevitável reprimenda aos retardatários.
Quando entramos na sala de aula, o sino do pátio bateu o primeiro sinal. O Irmão Roberto entrou na sala, todos levantamos e nos preparamos para a primeira oração. Começava mais um dia no Colégio Rosário.
Ao meu lado sentava o Paolo Giampaoli, de uma família de italianos, que tinham sofrido um golpe cruel, quando da entrada do Brasil na II Guerra. Sua fábrica de balas e confeitos, na rua Fernandes Vieira, não longe da esquina onde eu brincava, fora saqueada e queimada por uma multidão enfurecida, enfeitiçada pela propaganda oficial, que apontava alemães e italianos residentes no Brasil como os grandes responsáveis pela tragédia européia.
Lembro-me de caminhar entre os destroços queimados da grande fábrica, onde aqui e ali ainda havia restos de balas e chocolates. Meu pai comentou então que famílias conhecidas de Porto Alegre, de origem alemã, como os Bromberg e os Von Bock, guardavam memórias de violências cometidas contra suas famílias e propriedades.
***
Anos depois, quando do suicídio de Getúlio Vargas, seria a minha vez de ver de perto multidões incendiando e saqueando. Caminhando pela Rua da Praia com os colegas do Rosário, veria móveis sendo jogados do sétimo andar do consulado norte-americano na esquina da Marechal Floriano. Logo depois, todos correram Borges acima para ver a Rádio Farroupilha ser atacada e saqueada. Lembro de ver os discos serem arremessados de cima do Viaduto antes das chamas tomarem conta do prédio.
Mas eram outros tempos e o início de acontecimentos que desafiavam o entendimento daqueles jovens estudantes do Colégio Rosário. E o meu pai já não estava lá para me explicar o que estava acontecendo.
* José Antonio Moraes de Oliveira é publicitário aposentado, residiando atualamente em Gramado. Escreveu esta crônica a partir de um texto publicado por Mario de Almeida.
[email protected]

 Coletiva
Coletiva