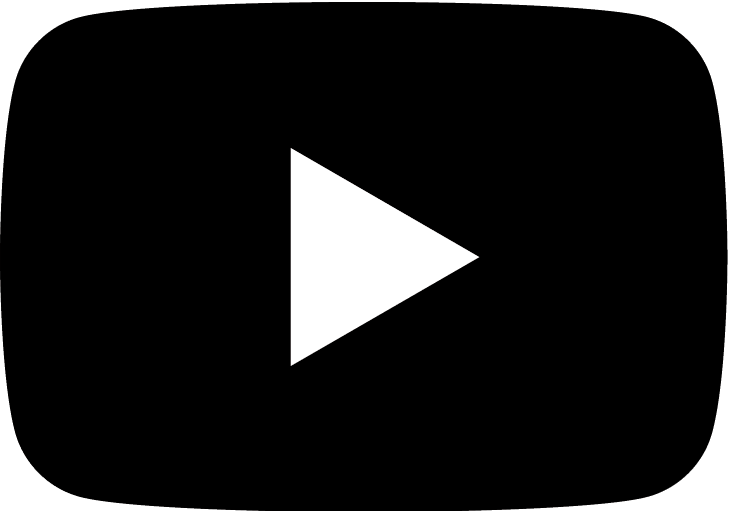Berlim, Bomfim
Caminhando pelas ruas do Bomfim no sábado ensolarado, cantando a canção, somos todos iguais braços dados ou não, apoderou-se de mim uma saudade com …
Caminhando pelas ruas do Bomfim no sábado ensolarado, cantando a canção, somos todos iguais braços dados ou não, apoderou-se de mim uma saudade com pitadas de melancolia. Saudade é um sentimento que pode ser gostoso, desde que não nos traga sofrimento. Ao cruzar pela Rua Fernandes Vieira, olhei para o apartamento do Flávio e lembrei que ali a turma da Famecos fazia ponto para decidir a "balada". Depois pelo apartamento da Neneca, na Rua Henrique Dias, onde a gente sentava para tomar vinho e discutir o futuro do país e do mundo.
Nas escolas, nas ruas, campos e construções, descobri que a minha saudade vestia melancolia. Quem sabe um pouco de impotência pelos planos que a gente fazia nas ruas do Bomfim quando tinha 20 e poucos anos. E acreditava. Era a idade de plantar utopias. O Brasil, aos poucos, colocava fim à ditadura militar, que privou da companhia dos familiares centenas e centenas de jovens que ousaram discordar. Um sindicalista maluco do ABC, apelidado de Lula, iniciava uma greve, e um combatente Gabeira exibia uma tanga de crochê lilás nas praias cariocas.
Quantas histórias guardadas nas paredes desses pontos de encontro da turma da Famecos 1979? Pelas ruas, a gente marchava em indecisos grupos, que ainda faziam da flor seu mais forte refrão e acreditavam nas flores vencendo o canhão. Naquele tempo, a gente não tinha tempo a perder. Qualquer minuto sem uma agitação, um planejamento, uma discussão, um debate acalorado, poderia fazer falta. O tempo, no final da década de 70 e início de 80, não tinha relógio.
O tempo não parou e a gente seguiu. Dias sim, dias não, a gente foi sobrevivendo sem um arranhão. Ficaram guardados em algum canto da memória os momentos de sonho e fantasia. E isso ninguém nos tira jamais. Às vezes, são lembranças de momentos da mais pura utopia, outras, de um medo de que o tempo de estudante e de boemia pudesse acabar; outras, vontade de rever o pessoal e ver como todos estão.
Em nome da utopia e da memória daqueles anos é que decreto em alto som: não quero mensalão. Podem me chamar de tudo, que eu não me importo. Não sou louca, como dizia minha avó materna, porque não rasgo dinheiro. Não sou imbecil, se cair um dinheiro vindo não sei de onde, uma herança, uma mega-sena, vou aceitar. Mas, prefiro continuar ganhando meu suado dinheiro do mês como faz a grande maioria dos assalariados: na jornada diária de cada profissão. Equilibrando receita e despesa na corda bamba.
Não quero colocar um ponto final e encerrar toda essa discussão que assola Brasília e já vem armada desde que eu nasci. Não quero jogar um balde de água fria naqueles que acreditam que se essa CPI não terminar em pizza, o País, enfim, encontrará seu ritmo. Não desejo que as denúncias na capital federal sejam ignoradas e não averiguadas. Só não compactuo com aqueles que acham que todo governo é corruptível, todo político é igual, o brasileiro quer levar a melhor, e se está correndo um mensalão por fora, eu vou é colocar meu nome na relação.
Carrego na minha modesta lista de pedidos coisas que o mensalão resolveria: acertar as contas que devo, comprar o apartamento da Thomás Flores, um carro novo e radical, mandar turbinar meu micro, comprar um micro para a Gabriela, quem sabe, uma lipo, uns mimos para o afilhado Rafa e a afilhada Camila. Com dinheiro honesto. Nada de grana suja, negócios estranhos, deputados que se vendem em troca de obras para as suas bases, lavagem de dinheiro. Só vou eliminar itens da lista com dinheiro do trabalho do dia-a-dia. E não vou dar munição para maluco ficar em casa achando que um golpe resolveria tudo
Vocês devem estar rindo de mim. Ou me comparando à velhinha de Taubaté que sempre acredita em tudo, não é? É que eu sou do tempo em que a gente sonhava com utopias, impossíveis e honestas. Do tempo pós-ditadura, de acompanhar a busca de familiares pelos seus mortos desaparecidos. Do tempo em que se recebiam os exilados no aeroporto. Do tempo em que se caminhava pelas ruas pedindo Eleições Diretas Já. Do tempo em que dignidade não era vendida em prateleira de supermercado. E para não esquecer desse tempo, eu conto para minha filha Gabriela e canto: "Quem sabe faz a hora, não espera acontecer".

 Coletiva
Coletiva