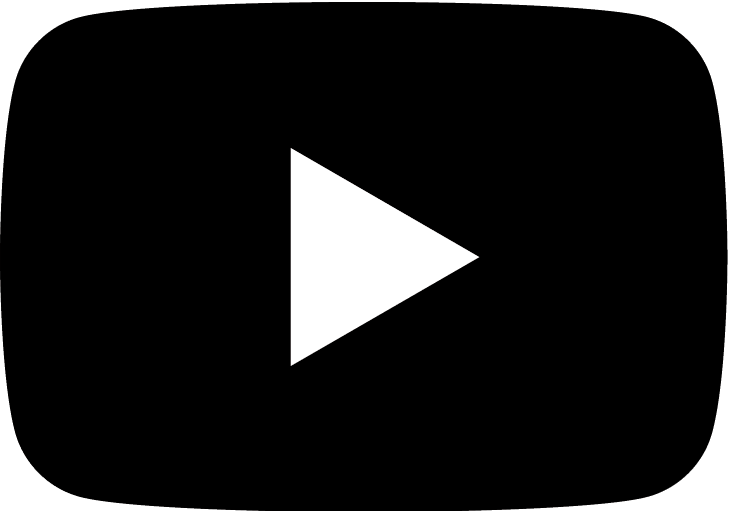Por que eu escolhi ser mãe
Escolhi que deveria ser mãe quando soprava 32 velinhas nos bolos de aniversário e mantinha um compromisso estável de mais de cinco anos com …
Escolhi que deveria ser mãe quando soprava 32 velinhas nos bolos de aniversário e mantinha um compromisso estável de mais de cinco anos com um único companheiro. Sim. Jamais me referi a ele como marido. Tenho certa antipatia com este rótulo, lembra algo como possessão. Naquela nossa relação, o companheiro também não gostava de ser chamado de marido. Embora no relacionamento atual, ele considere bonito e nem se importe. Homem sempre muda completamente, faz tudo diferente nas novas paixões e aceita aquilo que abominava antes. Mas, voltando ao momento de ser mãe, não foi o tal do relógio biológico feminino que tocou o meu alarme materno. Foi como se a minha vida estivesse sem cor, apática, sem aventuras, um pouco capenga.
Considerava-me realizada na profissão. Não acumulava dificuldades financeiras de tirar o sono. Havia viajado por lugares turísticos deste Brasil afora. Era acarinhada pela família. Às vezes, exercia a maternidade nos cuidados com os dois sobrinhos Rafael e Camila. Estava com uma pessoa (companheiro) que me fazia feliz. Mas existia um vazio na minha vida. Em cada amanhecer, aparecia uma lacuna na minha rotina. Faltava um pedaço importante na minha história. Ou melhor, verificava a ausência do personagem principal da minha existência e que iria ajudar na perpetuação da felicidade: um filho ou uma filha.
Assim, a minha gravidez foi planejada, esperada, desejada. Na primeira vez, não deu certo e eu perdi os (as) gêmeos (as) e morri um pouco. Mais um tempo e em março de 1994, a notícia tão aguardada da nova gravidez, com previsão de nascer em dezembro. E a vida deu uma guinada antes mesmo do nascimento. Tudo em mim mudou. Não foi só o corpo que aumentou, a barriga que cresceu e arredondou, os pés que não cabiam mais em calçado algum, o café preto que deixei de tomar nos intervalos na redação, ou a bebida, mesmo que socialmente, que saiu dos meus hábitos. Alterou a minha concepção de enxergar a vida, de imaginar o dia de amanhã, de acreditar e buscar maior justiça social no futuro mais longo. Eu já não pensava só em mim. A minha responsabilidade era enorme.
Sabia (as mães são avisadas) que os dias nunca mais seriam serenos, calmos e com as rotinas determinadas. Também fui informada de que o meu sono nunca mais seria tranquilo, sem interrupções, sem sobressaltos, e que eu riscasse do meu dicionário as palavras tranquilidade e sossego. As mamães mais experientes me contaram que as noites não seriam mais dormidas com aquela profundidade do sono que jamais nos desperta. As mães mais experientes me contaram das idas frequentes ao pediatra, aos plantões de hospitais quando o frio adoece os pimpolhos e dos programas obrigatórios, como levar ao parque, ao circo, sentar no chão para brincar e outras demandas complicadas. Eu não tinha medo de nada. Estava preparada.
Desde a confirmação da segunda gravidez, eu soube que levava no ventre uma menina. Não aparecia o sexo nas ecografias, que precisava fazer com frequência uma vez que havia perdido os primeiros nenês e era necessário acompanhamento refinado. Fiz em abril e nada do sexo. Final de maio. Em junho e julho. Em agosto. Mas eu já falava com a minha menina, tinha certeza que teria uma filha e só havia pensado em nomes femininos. Na ecografia do dia 4 de setembro, a médica apenas disse o que eu sabia: "mamãe, você está esperando uma menina". E com a confirmação, o último trimestre de gravidez foi imaginando como seria a sua voz, a maciez dos seus fios de cabelos, a cor dos seus olhos, o tamanho dos seus dedinhos, e pedindo que ela tivesse muita saúde e que o mundo sempre fosse o melhor possível para ela. Não sei se o mundo está melhor.
Minha menina está crescida. É uma moça. Completa 21 anos em dezembro. Uma mulher que orgulharia qualquer mãe. Não só pela sua beleza: olhar penetrante e claro, gestos delicados e firmes, uma cadência bonita ao andar, uma lindeza tão indescritível. Mas principalmente pelas suas atitudes politicamente corretas, pela sua inteligência, memória aguçada, persistência, posições, defesas e luta pela igualdade entre todos e justiça social. É uma desafiadora, uma justiceira, uma mulher de palavra e de fibra. De força. De raça. De coragem. De seguir em frente. De jamais abandonar o barco. De nunca deixar de estender a mão. De sempre ser parceira. De sempre ser amiga.
Então, me pergunto, volta e meia: por que eu escolhi ser mãe? Talvez porque eu soubesse que haviam me destinado uma Gabriela para entrar na minha vida e colorir os meus dias, aventurar minha rotina, adoçar minha acidez. Talvez porque este tenha sido (apesar dos erros), o meu melhor papel. Talvez porque eu saiba que meu coração seguirá sempre batendo no pulsamento do coração da Gabriela. Eternamente. Uma carrega o coração da outra. Como uma semente plantada. Talvez porque algumas mulheres necessitem da maternidade para completar seu ciclo. Talvez porque eu não tivesse ainda o personagem principal, o protagonista da minha história.

 Coletiva
Coletiva