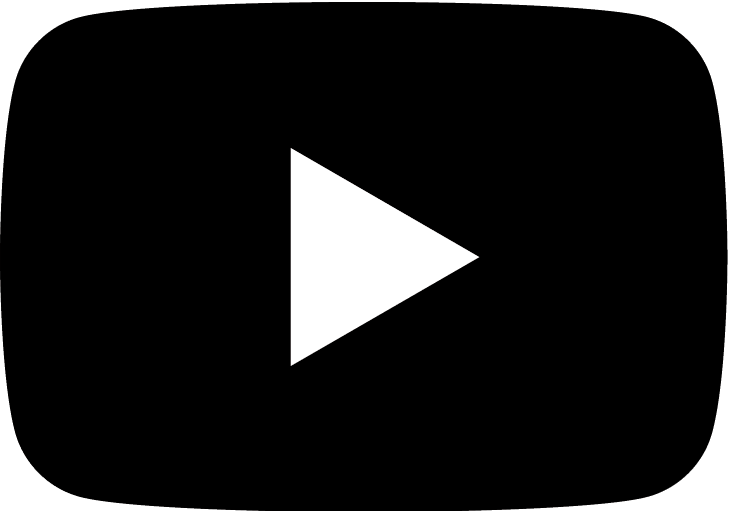A conspiração do silêncio
Por Marino Boeira
Séculos atrás trabalhei no Jornal do Comércio, dirigido na época pela família Jarros, onde escrevia uma coluna, sem assinatura, com uma síntese do noticiário internacional.
Como nunca ninguém comentava nada, nem para elogiar, nem para criticar, fui dando cores cada vez mais críticas à coluna, dentro daquela linha da esquerda festiva, comum na época. Basicamente falava mal dos norte-americanos.
Um dia o Mário Jarros, que dirigia o jornal, me chamou na sua sala e disse que seus amigos da Associação Comercial tinham comentado que a coluna estava um pouco em desacordo com a linha conservadora do jornal e me pediu moderação. Saí feliz: finalmente algo que eu fazia tinha repercussão.
Mais tarde, nos idos de 60, quando trabalhava na TV Piratini, redigindo o Repórter Esso, classifiquei a Polícia de Choque de "famigerada", depois que ela desancou o pau nos estudantes que protestavam contra a ditadura na Rua da Praia.
Fui advertido pelo diretor da televisão, Renato Cardoso, já falecido, para o risco de usar aquele qualificativo em tempos tão bicudos. Com o Aurélio em punho expliquei, mas não o convenci, que "famigerada" não era um termo pejorativo e que só servia para classificar, pessoas ou coisas, como famosas, para o mal ou para o bem.
O programa se chamava Repórter Esso, era patrocinado pela Esso Brasileira de Petróleo (o Brasileira do nome era de mentirinha), e a emissora pertencia aos Diários e Emissoras Associados, unha e carne com os militares que deram o golpe de 64. Mesmo assim, junto com o Luís Vicente Soares, o outro redator, nós contrabandeávamos algumas mensagens levemente subversivas no noticiário, principalmente quando se tratava da guerra do Vietnam, onde os americanos já estavam sendo surrados.
Ou eram mensagens tão leves que ninguém percebia, ou ninguém estava interessado no assunto. Nunca houve uma reclamação ou algum elogio dos telespectadores.
Depois disso, já trabalhando como professor na área de comunicação de uma universidade católica, falava sobre o desenvolvimento da mídia impressa no Brasil e relatava o fato de que na década de 50, a revista O Cruzeiro tinha alcançado uma tiragem de 500 mil exemplares, quando o país não tinha mais de 50 milhões de habitantes, na cobertura da morte do cantor Francisco Alves, o Rei da Voz, em 1952.
Em 1954, na morte de Getúlio Vargas, seriam 750 mil exemplares, mas isso nem cheguei a mencionar.
Salvo por alguns alunos que discutiam seus problemas pessoais no fundo da sala, a minha revelação foi recebida com um silêncio constrangedor. Como insistisse na importância do fato e na minha surpresa pelo desconhecimento e desinteresse deles, um dos alunos, com a arrogância típica dos ignorantes, tomou a palavra:
- Como é que o senhor quer que saibamos uma coisa que aconteceu há 50 anos?
Boa pergunta. O passado para aqueles alunos não existia.
Resolvi testar a memória deles. Como eles não lembravam um cantor da década de 50, cuja vida estava documentada em discos, revistas e jornais, certamente também não lembrariam de um personagem, cuja existência histórica é duvidosa, e que viveu há mais de 2 mil anos em terras muito distantes do Brasil.
- E Jesus Cristo, você lembram?
Todos lembravam.
Fiquei pensando que era preciso ensinar mais História do Brasil e menos religião nas escolas de segundo grau.
Muitos anos depois, na revista Press Advertising, onde escrevia artigos mensais sobre a Publicidade, comecei a implicar com os chamados "Jovens Criativos" - aqueles sujeitos que, mesmo nunca tendo lido mais do que manuais de criação, se acham os gênios da arte moderna e acreditavam que o mundo começou com eles.
O objetivo era provocar uma discussão sobre o preconceito da idade, tão comum nos departamentos de criação das agências de propaganda, onde a idéia dominante é de que aos 40 anos o sujeito é velho e aos 50, está morto e ainda não se deu conta.
Nenhuma contestação. Silêncio total.
Conto essas histórias, que possivelmente não vão interessar a ninguém, para comprovar a minha tese. Que tese? Simples: a de que no Rio Grande do Sul, em vez de criticar ou elogiar, as pessoas optam pelo silêncio. É um pacto não escrito, mas que impera no jornalismo, na publicidade e mesmo nas artes do Rio Grande: eu não falo mal de ti e tu não falas mal de mim. E assim ficamos todos felizes. Se alguém descumpre a regra, a gente faz que não vê, que não existe.

 Coletiva
Coletiva