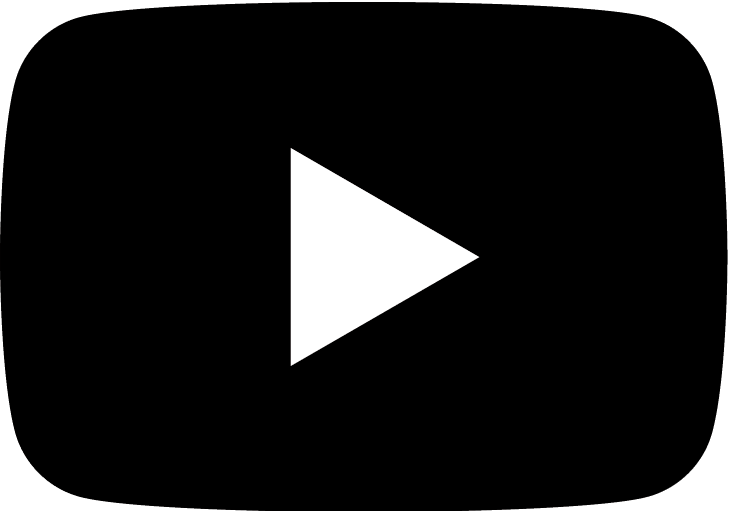Em nome do pai
Meu pai morreu em 1969, com 62 anos.
São quase 50 anos. É tempo suficiente para fazer um ajuste de contas com o passado e ver o que sobrou da sua presença na minha vida.
A primeira lembrança dele, e também da minha vida, é do Inverno de 1942, em Farroupilha, onde morava a nossa pequena família: meu pai, seu Alcides, minha mãe, dona Alzira, o irmão Maurício, sete anos mais velho, e eu, Marino, então quase completando três anos.
Num gramado perto da casa de madeira onde vivíamos, vultos de roupas pesadas e luvas jogavam bolas de neve, um contra os outros, no que parecia ser uma alegre brincadeira.
Para mim, não foi assim. A neve ardia nas mãos desnudas, provocando muita dor e choro. Nesse momento, meu pai entrou na minha vida. Ele me carregou no colo para casa, pôs água quente numa bacia onde submergi minhas mãos, provocando uma onda de prazer.
Estava aprendendo na prática uma lição que meu pai certamente não teve a intenção de me ensinar, a que de uma dor pode ser o caminho para um grande prazer depois.
O que sei de antes dele, ouvi pelas narrações da minha mãe.
Em Porto Alegre, ele tinha sido um jovem que, pelos padrões da família de imigrantes alemães de minha mãe, podia ser considerado rico ou pelo menos, bem encaminhado na vida.
Na provinciana capital dos últimos anos da década de 20 do século passado, ele tinha uma carroça e um cavalo, com os quais vendia verduras pelos bairros da cidade.
Podia ter sido o início de uma carreira de um empresário do comércio, como nos acostumamos a ouvir tantas vezes nas histórias de empresários que enriqueceram pelo seu trabalho, mas aquela rotina não interessava ao meu pai.
Em 1930, ele largou tudo para acompanhar as tropas de Getúlio Vargas na revolução e depois contava com orgulho que estava de guarda no Palácio do Catete quando Getúlio assumiu a Presidência.
Em 1932, já casado, voltou a se alistar para uma nova revolução que, para o seu desgosto, não se consumou.
Foi getulista até o fim da vida. Em 1950, Farroupilha transpirava catolicismo, mas nem ele, nem minha mãe, iam à missa. Minha mãe porque a família dela era dividida, metade católica, metade protestante. Meu pai, porque era mais anticlerical que ateu. Naquele ano, Getúlio concorria à Presidência, tendo Café Filho como vice. A Liga Eleitoral Católica, poderosa na época como formadora de opiniões, fez campanha contra Café, dizendo que ele era comunista. Na escola, durante uma aula de religião, o irmão-professor disse que era para avisar as famílias que, quem votasse em Café Filho seria automaticamente excomungado. Foi o que fiz, mas meu pai disse que, agora mesmo é que iria votar no Café. Durante muito tempo fiquei preocupado com a possibilidade que, excomungado fosse parar no Inferno, mas depois esqueci.
Voltando no tempo. Em 1932, sem o cavalo e a carroça, que tinha vendido, meu pai foi trabalhar como padeiro. Contava que era uma profissão que não pagava muito, mas que rendia sempre um quilo de pão que levava quentinho para casa todas as manhãs.
Pouco depois, optou por uma profissão que lhe pareceu mais segura: entrou para a polícia e foi ser guarda civil.
Também pagava pouco, mas não tinha o risco de demissão. Além disso, o revólver na cintura e a força física do seu quase 1 metro e 90 de altura, lhe garantiam o respeito das demais pessoas.
Essa preocupação em ter algum tipo de poder o levou a aceitar transferências para cidades do Interior, onde, muitas vezes, era a principal autoridade.
Primeiro, foi Lajeado, para onde fui levado com apenas alguns meses, depois, Farroupilha, onde começam minhas lembranças dele, um pequeno tempo em São Sebastião do Cai, depois, a volta à Farroupilha, uma curta passagem por Caxias do Sul, e a volta a Porto Alegre para a aposentadoria.
Minha história com ele começa, então, em Farroupilha
Ele era muito pouco presente em casa. Passava o dia na delegacia e a noite era reservada para o encontro com os amigos no café.
Nossos breves encontros serviam para que ele fizesse muitas cobranças. Tinha que estudar muito, ajudar a mãe em casa e andar sempre de sapatos limpos e engraxados.
Até o fim da vida ele conservou essa obsessão com a limpeza dos sapatos.
Ele era uma autoridade, quase sempre ausente fisicamente, mas sempre lembrada por minha mãe quando eu não cumpria o que ela imaginava que eram meus deveres.
Quando, por ventura, estávamos todos em casa, sua autoridade enchia todos os espaços.
- Não faz barulho - dizia minha mãe - teu pai está reinando.
Durante anos, o verbo reinar ficou associado a este comportamento paterno e demorou muito para que, só muitos anos depois, pudesse conhecer outras facetas mais suaves do seu caráter.
Minha referência permanente era minha mãe, já que o irmão mais velho tinha outros interesses.
A vida se resumia ao tempo da escola e o tempo da bola nos campinhos que abundavam em torno da casa.
Uma rotina que seria quebrada, pelo que posso entender agora, no ano de 1949, quando ele se envolveu numa briga com um grande empresário local.
Decidido a prender o sujeito, que se recusava a aceitar uma multa por uma infração de trânsito, se viu cercado por um grupo de seus empregados e disparou contra eles dois ou três tiros.
Felizmente, não acertou ninguém, mas o fato foi suficiente para que fosse removido para Caxias do Sul.
Então, nos dois anos seguintes, ele passou a morar em Caxias, nos visitando apenas na quarta feira de tarde e nos fins de semana, quando chegava no trem que levava mais de uma hora para ligar as duas cidades.
Livre da presença autoritária dele, sinto dizer agora, foram estes os dias mais felizes da minha infância.
Longe dele, podia esquecer os sapatos engraxados e me dedicar nas peladas de pés descalços que nunca tinham hora para acabar.
O que mais lembro dele?
Sua capacidade incrível de contar histórias. As minhas preferidas eram as de assombração. E as melhores eram as ocorridas em Lajeado, onde segundo ele dizia e minha mãe confirmava, tínhamos morado numa casa mal assombrada, na entrada do cemitério. A casa tinha ruídos, sopros, batidas na porta e passos perdidos por suas dezenas de peças. Na medida em que ele contava as histórias, eu as revivia em todos seus detalhes. Não importa que depois fosse difícil dormir com a luz apagada, mas na hora, elas eram imperdíveis.
Uns 30 anos depois, fui a Lajeado tentar encontrar a casa, mas ela não existia mais e ninguém nunca soubera de tais assombrações.
No ano de 1950, praticamente todos os meninos de Farroupilha tinham uma bicicleta aro 28 e com muito sacrifício, meu pai comprou uma, mas que deveria servir a mim e a meu irmão, sete anos mais velho, o que provocou muitas brigas entre nós.
Numa comemoração da Semana da Pátria, a prefeitura promoveu uma corrida de bicicletas para os garotos da cidade e eu acabei ficando em terceiro lugar, entre uma dezena de concorrentes e ganhei um prêmio de 20 cruzeiros.
Não lembro se meu pai me cumprimentou ou criticou pelo desempenho, mas penso agora que ele esperava mais de mim.
Durante muito tempo guardei uma foto do momento da largada da corrida, numa rua sem calçamento em frente à prefeitura. No canto esquerdo da foto, meu pai aparecia fardado, certamente cuidando para que os expectadores não se aproximassem muito dos corredores.
Essa é uma perda com a qual até hoje não me conformo, as fotos dos tempos de Farroupilha - a da corrida, da formatura sobre a qual vou falar mais adiante - e muitas outras que ele guardava como lembrança do seu passado.
Uma delas me chamava a atenção. Era uma foto montada sobre uma moldura muito grossa, quase um papelão e nela meu pai, bastante jovem, aparecia num grupo de atletas, de calça comprida e uma camiseta sem mangas. Ele, identificando alguns companheiros, explicava que era o grupo de lutadores de boxe da academia de polícia. Contava que levava jeito para o esporte, mas que teve que desistir porque precisaria quebrar o osso do nariz para poder continuar lutando e não quis fazer isso.
Numa época que as fotografias não eram muito comuns, ele gostava de guardá-las como lembranças dentro de caixas de charutos. Além das fotos, ele mantinha nessas caixas, de forma muito bem organizada, os seus documentos, incluindo o seguro de vida que ele pagava religiosamente. Quando morreu, vimos que o dinheiro não servia sequer para pagar o seu caixão.
Numa dessas caixas, ele conservava um pequeno saquinho de pano, sobre o qual nunca quis falar. Um dia, depois que prometi não falar para ninguém, a mãe contou que quando foi para a revolução, meu pai ganhou da sua mãe, minha avó portuguesa, que não conheci, uma página com orações, como forma de proteção. Com o passar do tempo, a página ficou em frangalhos e minha mãe precisou costurar o que sobrou naquele saquinho.
Por alguma razão que ele nunca explicou, esse era um assunto sobre o qual não se devia falar.
Mas voltando as fotos: em 1951, os três homens da casa passavam boa parte do dia fardados. O pai, como guarda de trânsito - quando veio para Porto Alegre passou da polícia civil para a de trânsito - meu irmão, cumprindo o período de soldado do exército e eu com aquele uniforme caqui de aluno do Julinho.
Meu pai queria uma foto para registrar aquela situação, mas meu irmão resistia. Não gostava da ideia. Para mim, era indiferente. Um dia, ele decidiu que a foto teria que ser feita e seria na Galeria Chaves, onde havia todos os dias um fotógrafo de plantão.
E lá fomos nós para a tal foto. Como o fotógrafo normalmente acendia as luzes, mas só batia a chapa quando pressentia que os fotografados comprariam a foto, ficamos, eu e o pai, do lado de fora da Galeria, na Rua da Praia, enquanto meu irmão foi lá dentro negociar com o fotógrafo.
Feitos os arranjos, saímos os três caminhando em direção ao fotógrafo que registrou para sempre aquele histórico momento. Cada de um de nós ficou com uma cópia. A minha me acompanhou por muitos anos, mas em alguma de minhas mudanças de vida, desapareceu.
Voltando mais uma vez no tempo, de novo para Farroupilha, no final de 1950. Acho que a primeira grande alegria que proporcionei ao meu pai e da qual tenho lembrança, foi nesse ano. Eu havia passado em primeiro lugar, na primeira turma do curso de admissão ao Ginásio São Tiago e a entrega solene das medalhas foi no cinema Guarani.
Quando ele foi chamado ao palco para me entregar o prêmio, me preparei para um solene aperto de mão, mas em vez disso, ele me abraçou e afagou a cabeça. Lembro, garoto idiota que era, que me decepcionei com o seu gesto afetuoso, que me pareceu inadequado para o formalismo que a situação exigia.
Vinte e cinco depois, devo ter lhe renovado essa alegria, quando recebi o canudo de formado em História pela Faculdade de Filosofia da Ufrgs e ele estava na plateia. Nessa vez, não houve apertos de mão, nem afagos na cabeça, mas tenho certeza que ele estava muito feliz porque atingira um dos seus objetivos de vida, o de ver os filhos formados na universidade.
Apesar disso, acho que ele nunca entendeu o que eu queria com um diploma de História. Para ele, profissões de verdade, que traziam dinheiro e respeito das pessoas, eram Medicina e Direito
Nessa época, eu já trabalhava como jornalista na televisão e isso, apesar de não ser o mesmo do que ser um médico ou um advogado, era uma profissão que ele achava importante e imagino que por isso valorizasse o meu trabalho.
O que não impediu que ele desprezasse solenemente o presente que comprei para ele e para mãe com um dos primeiros salários na televisão. Obviamente um aparelho de televisão que, nos primeiros anos da década de 60, começava a se tornar comum nas casas das pessoas, substituindo o rádio.
O primeiro programa que, os então três membros da família iriam assistir, era um show do Frank Sinatra transmitido pela TV Piratini, a única existente em Porto Alegre.
Mesmo com o Bombril na ponta da antena, a transmissão era péssima e o cantor dizia muito pouco para o meu pai. Ele suportou não mais do que cinco minutos e quando reclamei que ele não estava valorizando o meu presente, disse que eu podia levar a televisão embora.
Não levei e mais tarde ele se transformou num telespectador inveterado, mas nunca me agradeceu pelo presente.
Pouco mais do que alfabetizado, meu pai periodicamente punha na cabeça que precisava aprimorar seus conhecimentos da língua portuguesa e me escalava como seu professor, embora nunca abrisse mão de dizer como queria que a aula fosse ministrada.
Usando um livro do professor Álvares Cardoso, que fora professor de português no Julinho, lá estava eu pronto para tentar explicar o pouco que sabia. O aluno, porém, não era nada obediente ao mestre. Primeiro, levava longo tempo afinando a ponta dos diversos lápis que iria usar. Depois tinha que colocar tudo no seu devido lugar, a folha em branco, a borracha. A lição nunca começava e quando isso logo acontecia, o aluno queria fazer tudo do seu jeito. Nunca passamos da primeira aula.
Aliás, essa relação dele com as letras sempre foi algo que marcou nossa convivência.
Aos 12 ou 13 anos descobri, não sei como, o que seria um grosso livro de sacanagens. Só mais tarde vim a descobrir que as tais sacanagens entre padres e freiras faziam parte de um clássico do pré-renascimento italiano. Era o Il Decameron, do Giovanni Boccaccio. Meu pai se orgulhava de ver o filho com um livro com mais de 500 páginas debaixo do braço, mas nunca ficou sabendo das minhas motivações
Mais tarde, já aposentado, resolveu que seria comerciante e ganharia algum dinheiro. Usando suas parcas economias, comprou um ponto na Rua Hoffmann. Era um pequeno bar, com uma vantagem de localização. Ficava em frente à fábrica de cigarros Sudan e seus empregados gastavam um pouco do que ganhavam no bar. Minha mãe, extremamente simpática com todos, se dispôs a servir almoço aos empregados da fábrica e logo o negócio prosperou.
Não deu certo porque o pai alternava momentos de grande simpatia, com outros de extrema rabugice. Um dia, quando um sujeito, já um pouco bêbado aumentou o tom de voz e ordenou agressivamente - bota uma cachaça aí - ele perdeu as estribeiras e além de botar o bêbado para a rua, fechou o bar.
- Onde já se viu um vagabundo como estes me dando ordens, explicou depois.
Não podia dar certo mesmo. Ele acabou vendendo o bar e comprando uma pequena casa no bairro Cavalhada. Foi a única vez na vida que ele e minha mãe moraram em casa própria e não mais de aluguel.
O que mais lembro dele?
Do seu esforço de não ser igual aos outros. Sem querer ser melhor ou pior, não queria apenas ser igual. No futebol se dizia torcedor do São José, embora nos últimos anos de vida, certamente por influência dos filhos, passou a ser torcedor do Inter.
Quando morávamos em Farroupilha, o time da cidade era o Brasil, que até hoje existe, disputando os principais campeonatos regionais. Meu pai botou na cabeça então que deveria fundar um time para enfrentar o Brasil. Surgiu então o Alvi Negro. Certamente fruto de uma vaquinha entre outros rebeldes da cidade, juntou dinheiro suficiente para ir a Porto Alegre e comprar camisas, calções e meias para o novo time.Minha mãe bordou em todas as camisas o letreiro Esporte Clube Alvi Negro , ECAN. No jogo de estréia, evidentemente contra o Brasil, o Alvi Negro ganhou por4 a 2
Graças ao meu pai é que comecei a assistir futebol. Em Caxias, primeiro e depois em Porto Alegre, com o seu uniforme de policial, punha as mãos em meus ombros e assim íamos entrando nos jogos. Sem pagar pelos ingressos, sobrava sempre uns trocados para o indefectível mandolate.
De repente, chegou sorrateiramente a doença.
Estava aposentado, mas fazia uns bicos como segurança durante o dia, num prédio do IPE.
Ao primeiro infarto, sobreviveu. Ao segundo, um ano depois, não resistiu.
Este ano, entre um e outro infarto, foi acima de tudo de revolta. Não aceitava a doença, não aceitava gastar seus parcos recursos com médicos e medicamentos. O cardiologista que o atendia, precisava dizer que o tratamento não custava nada, que fazia isso porque era meu amigo. Nem que eu pagasse as consultas ele aceitava.
O primeiro que o atendeu fez uma frase que desagradou profundamente meu pai, que disse não ia mais permitir que ele entrasse em sua casa.
A frase, bem inocente, foi dita depois que o médico lhe passou uma dieta rígida
- O senhor, seu Alcides, vai ficar com um corpinho de bailarino espanhol.
Em fevereiro de 1969, ele decidiu que voltaria a trabalhar como padeiro em Capão da Canoa para ganhar algum dinheiro e ninguém conseguiu tirar essa ideia de sua cabeça.
Morreu nos primeiros dias de março.
Ele havia passado uma semana muito ruim, com dores no peito, mas naquela segunda-feira parecia bem melhor.
Ao voltar das aulas na Unisinos, passei para vê-lo, na casa da Avenida Ceará. Ele havia vendido a casa da Cavalhada e morava novamente de aluguel. Naquela noite me pareceu rejuvenescido. Havia feito a barba de uma semana e pediu que trouxesse a neta no dia seguinte, já que agora estava com uma boa aparência e não iria assustá-la.
No outro dia, logo que cheguei para trabalhar na agência de propaganda - havia trocado o jornalismo pela publicidade para ganhar um pouco mais - avisaram que havia um recado da minha mãe.
Quando cheguei, minha mãe me abraçou na porta e disse uma frase que nunca mais esqueci
- Teu pai se foi.
Não tinha ido em definitivo ainda. O corpo ainda estava estendido sobre o sofá da sala, onde sofrera o colapso fatal.
Naquelas primeiras horas, atarefado com as funções de conseguir um atestado de óbito, de comprar o caixão, de alugar o túmulo no cemitério e de avisar meu irmão que então morava no Rio de Janeiro, praticamente me esqueci do meu pai morto na sala de visitas.
O velório foi em casa, porque minha mãe dizia que era muito triste o velório à noite no cemitério.
Vieram os parentes, os poucos amigos dele e alguns meus e de meu irmão.
No dia seguinte, o cortejo para o Cemitério São João tinha apenas o carro fúnebre na frente e o meu fusca atrás, eu dirigindo, meu irmão ao lado e minha mãe no banco de trás
Então, pela primeira vez na vida e por enquanto a última, eu chorei de sentir as lágrimas correndo pelas faces.
Naquele caixão em frente ia o corpo de um homem, que sempre fora um inconformado com tudo e que agora seria enterrado para sempre eu não podia fazer nada a não ser chorar.
No cemitério perguntaram se queria que abrisse a tampa do caixão para último olhar.
Recusei. Acho que queria simplesmente esquecê-lo. Como se isso fosse possível.

 Coletiva
Coletiva