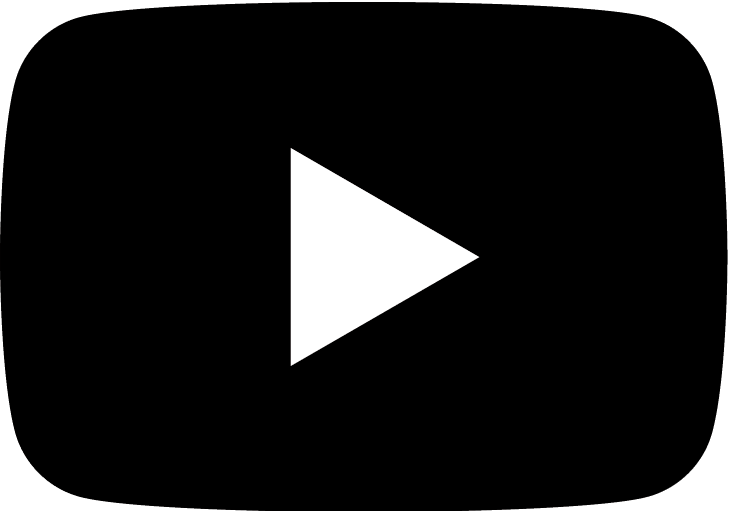Adeus à distância
Por Fraga
Anos antes da pandemia, perdi parentes e amigos. Em quase todos os velórios e enterros pude ir me despedir. Qualquer que seja o tempo parado diante de um caixão ou de uma cova, fixa a perda para sempre. Esses momentos não servem pra consolar, servem pra consolidar definitivamente uma ausência.
Ainda anterior à pandemia, perdi alguns parentes e amigos sem ter sabido a tempo de suas mortes ou não ter tido condições de comparecer nem a velório nem enterro. E por não assistir às cerimônias, até hoje suas existências continuam em suspenso no meu imaginário: nem vivas nem enterradas. E se você não assiste, você não tem um último momento pra guardar dessas pessoas queridas.
Minha tia Helena, que eu gostaria que tivesse sido minha mãe, se foi assim, enquanto eu estava hospitalizado por motivos coronários. Ela se foi e meu coração, sem direito a um adeus de corpo presente, teve que se curar de dois baques duma vez só.
Também não pude me despedir do meu irmão Jorge Vinícius, que teve velório e enterro apressados pela circunstância trágica da sua morte.
Esse mesmo tipo de desconsolo tive com meus adorados Tuio Becker e Sérgio Silva (que eram amicíssimos um do outro). Durante décadas compartilhamos projetos de cinema mas, no fim, não assisti ao the end de cada um. Nesses casos, apenas porque não tomei conhecimento prévio dos velórios. E se a gente não vai ao cemitério, a imagem do enterro não fica na retina.
Agora, em meio à pandemia e a tantas perdas, as despedidas estão proibidas. É sensato não lotar uma câmara ardente: para continuarmos vivos não podemos nos aglomerar ao redor de quem faleceu, seja por covid-19, seja por outra causa. E ao nos ausentarmos desses lugares, sem o derradeiro encontro, a imagem de quem significou tanto se esvai um pouco mais, num desenlace incompleto.
Assim se foi, neste fim de semana, o jornalista Júlio Mariani. Seu obituário, com sua folha de serviços ao melhor jornalismo gaúcho, você pode ler aqui. Aos que o conheceram e conviveram com ele, a lembrança do Júlio Mariani vai permanecer, claro: alguém sempre amável e bem-humorado, respeitável e civilizado, um humanista. Daquelas pessoas que só por ser quem são já basta pra gente se sentir em rara companhia.
Mas a falta de um velório repleto dos amigos e dos colegas que o admiravam, nubla a memória, embaça o sentimento fraterno. Em vez de um adeus sentido e verbalizado, coletivo e animado, sobra apenas esse vazio silencioso a que todos vamos, sem outra alternativa, nos acostumando.
Sem pandemia, vida e morte seguiriam o curso normal. Eu faria questão de estar no enterro do Mariani. E entre as muitas boas histórias em torno dele, certamente eu repetiria uma das melhores que tivemos juntos.
Era 1973, na redação da então Folha da Manhã, da CJCJ. Eu sabia que queria estar naquele jornal, em tudo diferente dos veículos da Caldas Jr. Por conta dessa aspiração, vivia visitando a redação: levava minhas frases e textos, e insistia com o Ruy Carlos Ostermann, diretor de redação, por uma oportunidade pro meu humor. A crise mundial do papel era sempre o impedimento alegado.
Meses e meses de visitas, os ruídos da redação como música pros meus ouvidos, e nada. Conversava com editores e diagramadores, doido pra virar jornalista. Até que janeiro de 74, num início de noite entro na redação da Folha da Manhã e o Mariani me acena. Disse que depois queria falar comigo. Após a circulada pelas mesas do José Vieira e do Jorge Polydoro, entre outros, fui até a mesa do Mariani. Que me disse:
- Tenho um recado do Ruy pra ti.
- O que é?
- Ele mandou dizer que não aguenta mais ver a tua cara aqui.
E eu, num calafrio em pleno verão:
- Bah, mas não posso nem visitar o jornal?
- Visita, não. Mas disse outra coisa também.
- O quê?
- Que tu tens duas colunas de alto a baixo, de segunda a sábado. Bola um título e começa amanhã.
Um emprego de humorista. Primeira chance profissional e logo num baita jornal. Se fosse apenas isso, já seria inesquecível. Mas com o divertido suspense criado pelo Júlio Mariani se tornou memorável, parte da minha biografia.
Por incrível coincidência, naquele mesmo dia nascera minha filha, Letícia.
Na rotina da redação, o Julio Mariani foi um dos meus mais constantes editores.
Quando a Folha da Manhã celebrou seu 5º aniversário, o Mariani editou um caderno comemorativo, com o melhor dos conteúdos jornalísticos. E no humor, uma seleção de crônicas do LFV, uma seleção de tiras do Rango do Edgar Vasques e outra das minhas Bugigangas. Éramos felizes e sabíamos.
Depois fiquei longe de Poa por 20 anos. No retorno, queria rever amigos e sondar o mercado. A primeira coisa que fiz foi pôr o nome do Júlio Mariani no gúgol. O nome dele surgiu na coluna Onde Estão, aqui do Coletiva. Virei colunista do Coletiva, e eu e o Mariani começamos nossos cafés, bissextos mas regulares. Nas feiras do livro, mais cafeína e papos sobre o jornalismo, artes e isso tudo que chamamos de vida.
Recordar não ameniza a perda de um amigo, nem acaba com as saudades. Mas atenua um pouco a sensação de vazio que um não-enterro traz.

 Coletiva
Coletiva