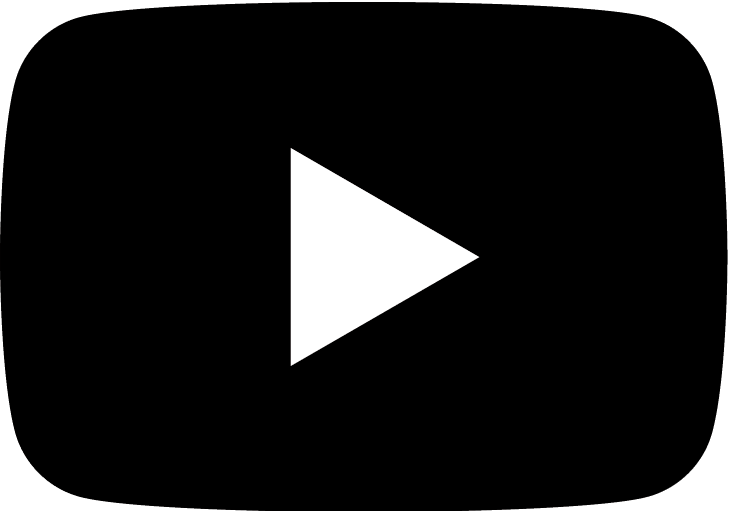O futebol, os palestinos e o sionismo
Por Marino Boeira
Nessa semana, uma partida de futebol pela Copa Libertadores, entre o Internacional e o Palestino, do Chile, trouxe à baila mais uma manifestação de intolerância racial de um grupo que se apresentou como uma sociedade sionista de Porto Alegre. O grupo, com a cobertura dos veículos da RBS, sempre simpáticos ao sionismo, pretendeu impedir que o clube chileno jogasse com suas camisas tradicionais, nas quais existe uma pequena ilustração da Palestina anterior à divisão da região pela ONU em 1948.
Desde a criação, em 14 de maio de 1948 do Estado de Israel, até os dias de hoje, ainda se discute até que ponto a criação de um estado judaico em meio a populações majoritariamente árabes não caracteriza um grande equívoco geopolítico.
Nesse episódio de Porto Alegre, a proposta sionista não teve adesão nem mesmo dos setores mais esclarecidas da comunidade judaica. Mas, em outros episódios mais decisivos, o lobby judaico, o mais poderoso do mundo inteiro, tem impedido que os meios de comunicação relembrem como foi possível criar-se um estado baseado em razões da raça e religião judaicas dentro de uma comunidade predominantemente árabe e islâmica.
Essa história precisa ser contada a partir da Primeira Grande Guerra, quando, em 1917, Lorde Balfour, Secretário Britânico de Assuntos Estrangeiros e interessado no apoio dos banqueiros judeus para financiar a luta da Inglaterra contra o Império Turco pelo controle do Oriente Médio, garantiu ao presidente da Federação Sionista Britânica, Lorde Rothschild, o apoio inglês à criação de um "lar para os judeus", na Cisjordânia, ainda que registrasse, em sua declaração, que isso deveria ser feito sem prejudicar os interesses dos árabes, que formavam a maioria populacional na região.
A ideia de criar uma nação para abrigar os judeus espalhados pela Europa após a diáspora foi lançada pelo jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl, em 1895, mas, inicialmente, obteve poucas adesões e, mesmo depois do apoio formal dos ingleses, não motivou uma forte migração para a Palestina.
Num primeiro momento, Herzl chegou a negociar, sem êxito, com o Sultão da Turquia, cujo império dominava o mundo árabe, uma concessão para criar um estado judeu na Palestina.
Mais adiante, em 1903, no congresso sionista da Basiléia, conseguiu aprovar por 295, a favor, 178, contra, e 98 abstenções a ideia de fundar um estado judeu em Uganda, na África.
Essa possibilidade foi depois posta de lado e voltou-se novamente ao objetivo inicial, o retorno à Palestina, onde ainda existia uma pequena comunidade judaica.
No final da Segunda Grande Guerra, viviam na Palestina sob o controle da Inglaterra, um milhão e meio de árabes e 600 mil judeus.
No livro Breve História do Sionismo (edição em espanhol da Alianza Editorial), o professor de História Contemporânea da Universidade Autônoma de Barcelona, Joan Culla, conta com riquezas de detalhes como as grandes potências europeias agiram no Oriente Médio, interferindo em seus processos políticos e determinando seu futuro.
Em primeiro lugar, a Inglaterra, que, aproveitando a falência do Império Otomano, que dominava a região até a Primeira Guerra, representou o principal papel no drama palestino, ora estimulando a criação do Estado de Israel, ora bloqueando o acesso de colonos judeus à região, fazendo, com isso, o jogo dos árabes e afinal se indispondo com todas as partes.
Os Estados Unidos, na época dos presidentes Roosevelt a Truman, foram sempre indecisos em relação à constituição de um estado judaico. Embora sofrendo a pressão do lobby judaico americano, a Casa Branca temia a influência soviética na futura nação. O que levava a essa suspeita, segundo Culla, era o grande número de colonos judeus vindos da Rússia e a existência entre as lideranças judias na Palestina de um forte sentimento em favor de uma organização socialista na economia.
Em terceiro lugar, mas talvez o mais decisivo de todos na visão do autor do livro, foi a ação da União Soviética, que, temendo uma expansão do poder inglês na região, apoiou fortemente a criação do Estado de Israel, primeiro através do Chanceler Gromiko, na ONU e, depois, quando Israel já tinha sido criada, sustentando a guerra contra os árabes.
Como Estados Unidos e Inglaterra haviam bloqueado o acesso de armas para região, conflagrada numa guerra entre árabes e judeus, foi através da Checoslováquia, já socialista, que Israel pode se armar e vencer a guerra pela sua independência.
O holocausto provocado pelos nazistas, durante a guerra, criou as condições emocionais para garantir o apoio de uma maioria de nações europeias e americanas para criação de Israel, que, segundo decisão da ONU, deveria ficar com uma parte da Palestina, reservando-se o restante para a criação de um futuro estado palestino árabe.
Norman Gary Finkelstein, doutor pela Universidade de Princeton e professor da Universidade de Nova Iorque, filho de pais sobreviventes de Auschvitz, escreve em seu livro A Indústria do Holocausto - Reflexões sobre a Exploração do Sofrimento dos Judeus, que "o organizado judaísmo americano explorou o Holocausto nazista para desviar as críticas a Israel e suas políticas moralmente indefensáveis". Segundo Finkelstein, até 1967, o Holocausto era visto como uma causa comunista e foi somente a partir da guerra contra os árabes que a importância estratégica de Israel no Oriente Médio cresceu para os Estados Unidos.
"A indústria do Holocausto só se difundiu no mundo depois da dominação militar esmagadora de Israel no Oriente Médio e de um florescente triunfalismo entre os israelenses."
A premissa a justificar a criação do Estado de Israel se baseava num pretenso direito histórico sobre a região pelo povo judeu, expulso pelos romanos e que havia, no exílio, mantido a sua integridade étnica e religiosa.
A tese nunca foi comprovada e mesmo um historiador judeu, como Shlomo Sand, professor de história da Universidade de Tel Aviv, em seu livro A Invenção do Povo Judeu, admite que, unidos por uma religião dominante, os judeus da diáspora foram se mesclando com diversos povos da Europa Central e mesmo do norte da África, o que é comum em todas as etnias.
Sand argumenta que, assim como os cristãos mais contemporâneos e os muçulmanos, são descendentes de pessoas convertidas e não dos primeiros cristãos e muçulmanos, o judaísmo era, originalmente, assim como seus dois primos, um proselitismo religioso.
De acordo ainda com o escritor, os judeus que viviam em Israel, ao contrário da crença popular, não foram exilados pelos romanos e puderam permanecer na Palestina. Muitos judeus convertidos ao Islã após a conquista da região pelos árabes se tornaram os ancestrais dos árabes palestinos atuais
A consolidação de Israel, com o apoio dos Estados Unidos e principalmente da União Soviética, o tornou uma cunha dentro do mundo árabe, gerando uma sucessão de graves conflitos no Oriente Médio, em praticamente durante toda a segunda metade do século XX.
A pergunta que se faz é se os judeus não têm direito de viver em paz na terra que escolheram?
A resposta é obviamente que sim.
Só que isso não elimina a segunda pergunta: os palestinos têm direito de viver em paz na terra em que nasceram?
Obviamente que sim.
A criação de um estado Judeu, que rapidamente expandiu suas fronteiras por terras que mesmo de acordo com a partilha da ONU, pertenceriam aos palestinos, inviabilizou aquela que seria a melhor solução para os dois povos: a criação de um estado único, laico e democrático que respeitasse os direitos de árabes e judeus.
Isso agora não é mais possível e ações armadas de Israel contra seus vizinhos e as represálias dos árabes não vão solucionar a questão.
Avram Noah Chomssky, judeu americano nascido na Filadélfia, em 1928, linguista, filósofo e professor emérito do Instituto Tecnológico de Massachusetts, diz o que aconteceu na Palestina:
"Nos territórios ocupados, o que Israel está fazendo é muito pior do que o apartheid. Os brancos sul-africanos precisavam da população negra. Era sua força de trabalho. Eles tinham se sustentá-los. Os "bantustões" eram horríveis, mas a África do Sul precisava deles. A relação de Israel com os palestinos é diferente. Israel simplesmente não quer os palestinos. Israel os que fora de sua terra ou pelo menos na prisão."
Ilan Papé, nascido em Haifa em 1954, era professor de História na universidade local até se exilar na Inglaterra depois da publicação do seu livro Limpeza Étnica na Palestina, no qual afirma que houve uma expulsão deliberada da população civil árabe da Palestina - operada pela Haganah, pelo Irgun e outras milícias sionistas.
Hoje, Papé é professor na Universidade de Exeter e diretor do Centro Europeu de Estudos sobre a Palestina.
A alternativa que resta é Israel aceitar a criação de um estado Palestino, com a transformação de Jerusalém numa cidade neutra e aberta para que os dois povos possam construir uma sociedade pacífica e democrática.
Os recentes episódios ligados à visita de Bolsonaro a Jerusalém, mostram que o governo de extrema direita de Netanyahu não pretende seguir esse caminho.

 Coletiva
Coletiva